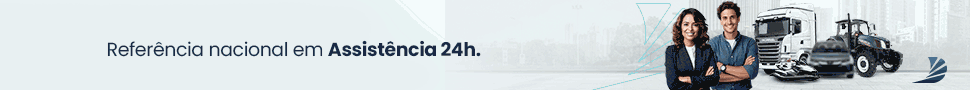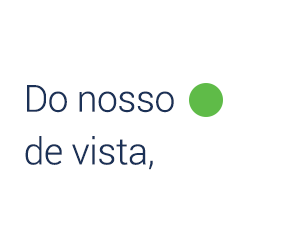Com um coro de “sim” que quase não foi ouvido fora de Washington, o Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou na última quarta-feira uma lei que vai criar uma autoridade supervisora nacional para as companhias de seguros.
O Federal Insurance Office (FIO) não será uma autoridade reguladora, mas estará acima das autoridades estaduais americanas e vai recolher informações para ajudar os formuladores de políticas a responderem às crises, reduzir os riscos sistêmicos e ajudar a garantir o bom funcionamento do sistema financeiro.
A iniciativa é a mais recente amostra da atenção que as autoridades econômicas vêm dando aos riscos sistêmicos apresentados por um setor que passou os últimos meses afirmando que não causou a crise financeira, nem sofreu enormemente com ela. Na semana passada foi anunciado que o Financial Stability Board (FSB), um grupo internacional de bancos centrais e autoridades reguladoras, excluiu seis seguradoras – Aegon, Allianz, Aviva, Axa, Swiss Re e Zurich – de sua lista ainda não oficial de instituições internacionais consideradas importante do ponto de vista sistêmico, a maior parte dela formada por bancos.
No mês passado, Jean-Claude Trichet, presidente do Banco Central Europeu (BCE), disse em um encontro de autoridades reguladoras da Europa que vê as grandes companhias de seguros e os fundos de pensão como instituições sistemicamente importantes. “A interação entre as seguradoras e os fundos de pensão, mercados financeiros, bancos e outros intermediários financeiro vem crescendo consideravelmente ao longo do tempo”, disse Trichet, acrescentando que a visão que se tem delas, de estáveis e menos interconectadas, “precisa mudar”.
Os contra-argumentos do setor vêm se concentrando no fato de que as seguradoras possuem mais capital enquanto proporção de seus tamanhos, ou uma alavancagem menor, e que elas enfrentam a mesma demanda potencial por pagamentos, ou riscos de liquidez, que os bancos.
Thomas Hess, principal economista da Swiss Re, diz que as seguradoras passaram no duro teste da crise não porque tinham modelos de risco superiores, e sim porque possuem modelos de negócios diferentes. “O negócio dos seguros não diz respeito à especulação, e sim à proteção dos interesses dos detentores de apólices”, diz ele, acrescentando que desativar uma seguradora quebrada é um trabalho mais simples e mais vagaroso do que fazer isso em um banco falido.
Como as seguradoras não enfrentam as mesmas demandas imediatas de pagamentos aos detentores de apólices que os bancos em relação aos correntistas, elas não precisam marcar agressivamente seus investimentos a preços de mercado.
Isso significa que nos mercados de bônus em queda – mercado em que as seguradoras investem muito – elas não precisam aumentar agressivamente suas reservas contra defaults, que protegem suas bases de capital quando a solvência dos bancos está abalada pela queda dos mercados.
Isso é ilustrado por Raghu Hariharan, analista do Citigroup, que avalia que as reservas contra calotes das companhias de seguros de vida do Reino Unido são hoje de menos da metade dos níveis registrados antes da crise, com base nos valores de mercado dos bônus corporativos.
Muitos observadores e analistas concordam com esse quadro em termos amplos – embora com várias advertências -, mas o fato das seguradoras não representarem os mesmos riscos que os bancos não significa que elas não representam riscos sistêmicos. Autoridades econômicas apontam para os exemplos do passado, em que a disponibilidade de seguros caiu dramaticamente por causa das grandes perdas, o que levou os governos a interferirem para proporcionar cobertura.
Isso aconteceu recentemente com os seguros de crédito comercial na França e no Reino Unido, e no passado com a cobertura contra terrorismo e furacões na Flórida.
Houve também períodos em que as seguradoras de vida foram forçadas a vender certos ativos, como, por exemplo, ações durante o “crash” dos papéis das empresas pontocom. As autoridades econômicas afirmam que eventos do tipo podem provocar problemas substanciais além do setor de seguros.
Além disso, existem incertezas sobre como as novas regras de capital propostas na Europa, que estão sendo discutidas para implementação em 2012, poderão afetar os incentivos e comportamento das seguradoras – e a alavancagem do setor como um todo.
Para alguns, essas novas regras para as seguradoras, conhecidas como “Solvência II”, são muito parecidas com as regras do acordo da Basileia 2 para os bancos, que tiveram um papel-chave na crise financeira.
Por exemplo, elas deverão encorajar firmas individuais a diversificarem seus riscos para reduzirem suas exigências de adequação de capital. Andrew Haldane, do Banco da Inglaterra, vem afirmando que isso faz todo sentido para os bancos individualmente, mas permite que eles fiquem cada vez mais parecidos, minando assim a estabilidade do sistema.
As novas regras também contam muito com as avaliações de crédito, de uma maneira que provavelmente vai concentrar – em vez de diversificar – a exposição de contrapartida.
Segundo a Munich Re, as seguradoras conseguirão um alívio de capital muito maior comprando resseguros de uma contraparte com classificação de risco “AA” do que espalhando os riscos por seis contrapartes com classificações “A”.
Joachim Oechslin, diretor de risco da Munich Re, diz que as resseguradoras vão assumir cada vez mais riscos voláteis, complexos ou extremos.
No entanto, ele diz que as similaridades entre o Solvência II e o Basileia 2 são superficiais e que as novas regras de capital para as seguradoras não serão tão influenciadas pelos movimentos do mercado como as regras para os bancos acabaram mostrando ser.
Isso porque o capital das seguradoras deverá ser baseado em um histórico de dados maior e calibrado ao longo de um ano inteiro, um período de tempo maior que o verificado no caso dos bancos, diz ele.
“Nossa esperança é de que isso signifique que as exigências de capital continuarão constantes ao longo do ciclo”, diz Oechslin.
Jonathan Hekster, analista da Bernstein Research, afirma que as resseguradoras – uma referência dos riscos e do capital para o setor como um todo – mostram seu real valor no manejo de riscos extremos.
“Mas o risco real em modelos imaginários, conforme já vimos, é que as pessoas começam a acreditar muito nelas e expelem os excessos, ou margem de erro”, diz ele. “Não estou convencido de que, com o Solvência II, mais sofisticado necessariamente significa melhor.”
Seguradoras e resseguradoras podem apresentar riscos muito menores de um colapso súbito e imediato que os bancos, mas elas fazem promessas por períodos de tempo muito longos. No jargão médico, os riscos sistêmicos que elas representam podem ser crônicos e de longo prazo, em vez de críticos e de curto prazo.
Paul J Davies, Financial Times
Valor Econômico